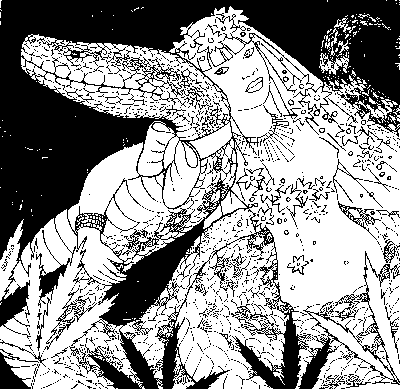Cultura de almanaque, domingos de junho e graciosa ilustração
Aí, no título, está uma expressão perfeitamente depreciativa. Nestes tempos de pós-doutorados, dizer-se que alguém tem cultura de almanaque é ofensa grave, daquelas catalogadas como crimes contra a honra, porque reduz a vítima a sabedora de coisas pela rama, sem profundidade. Ao se cunhar a expressão, pensava-se com justa razão naqueles livretes distribuídos de graça a cada começo de ano, quase sempre por farmácias. Neles, entre anedotas inocentes ou curiosidades inverossímeis, ensinava-se a tirar manchas de roupas, dava-se a tabela dos dias favoráveis à pesca ou ao plantio disso e daquilo. Alguém há de se lembrar dos almanaques do Biotônico, da Saúde da Mulher, do Jeca Tatu. Neste último, o gênio criativo de Monteiro Lobato ensinou mais sobre doenças endêmicas do que qualquer campanha oficial de saúde pública. Para evitar o amarelão, por exemplo, até as galinhas e os porcos andavam calçados. E tomavam Ankylostomina Fontoura, é claro... Hoje, poucas dessas raridades sobrevivem, porque se dá a saturação de informes, de tal modo que mesmo as pessoas de poucas letras sabem de tudo pela rama, porém em tempo real. Previsão do tempo, assunto em que qualquer almanaque de prestígio arriscava palpites com meses de antecedência, hoje é com falível pretensão científica divulgada pelas rádios e pela televisão, com validade máxima de algumas horas, através de dados colhidos por satélites especiais. Nem por isso, lá uma vez ou outra, as previsões deixam de errar redondamente.. Você já observou como os locutores ficam aborrecidos, quase pedem desculpas ao público, quando anunciam chuva num final de semana? É costume deles dizerem que com chuva, os sábados e domingos não serão aproveitáveis, como se as fontes, os rios, as lavouras, as pessoas, os animais dispensassem a água dos céus só porque haverá transtornos e modificações nos planos de quem, morando em grandes cidades, não via a hora de sair momentaneamente do barulho e da poluição, fugindo para a praia, para o campo, para a serra... Nos meios de comunicação é uma espécie de pecado anunciar-se que o tempo será chuvoso. No máximo, o aceitável estará em predizer-se que o tempo será instável, às vezes com períodos de melhoria. Dourando-se a pílula, como se vê. De acordo com aqueles decrépitos almanaques, nunca choverá em junho e sempre fará frio – o que não é verdade. Temos vivido junhos calorentos e até chuvosos. Temos tido domingos com sol pleno, com sol interino, com chuva branda, com aguaceiros. As estações andam perplexas, admitindo em qualquer mês do ano a existência de dias pesados, daqueles que exigem a convocação de um adjetivo erudito como plúmbeo. Dias plúmbeos, domingos plúmbeos – com a cor e o jeito do chumbo. Mas há que se aproveitar um dia plúmbeo, tão contra a limpidez de nosso céu e a claridade de nossa latitude. Dia completamente antitropical. Como alguém já se cansou de explicar, os trópicos (os tristes trópicos , na feliz expressão de Lévy Strauss – o único sujeito que teve a coragem de dizer que a baía de Guanabara era feia), os trópicos não são de produzir eminentes pensadores, filósofos profundos. Dar com a essência última das coisas muito tem a ver com solidão, recolhimento, ausência de tentações de interromper leituras e congeminações, em troca de uma boa praia, uma alegre cervejada, um interminável papo numa roda de amigos. E salutar forma de recolhimento é ouvir música, daquela música que não impeça ler ou escrever. Põe-se a rodar a Obra de piano, de Claude Debussy, por Noël Lee, conjunto de quatro CDs, gravado na Dinamarca pela Audivis-Valois, em 1971.Vem com elucidativo livrete, nada semelhante ao antigos almanaques. Se na Argentina dizem que Carlos Gardel canta cada vez melhor, se nos Estados Unidos milhares de fanáticos não admitem até hoje a morte de Elvis Presley, não será demasia dizer que Debussy é cada vez mais Debussy, mesmo no sovadíssimo Clair de lune , que, bem traduzido, não passa de luar, mas guarda na pronunciação francesa sugestões de uma lua transcendental que vence lenta a linha do horizonte e prateia vagarosa o silêncio de uma paisagem de sonho verdadeiramente lunar. Encanta mais uma vez a preguiçosa e satisfeita sensualidade de uma flauta que insinua as delícias da modorra do Prelúdio à tarde de um fauno. Debussy, como os simbolistas na literatura, é também mestre na difícil arte de nomear, de batizar suas visões impressionistas . Daí, a majestade da Catedral submersa, a rumorosa alegria da Manhã de um dia de festa, a refrescante sensação dos Jardins sob a chuva, o silêncio fofo dos Passos sobre a neve. “Eu não conheço outra regra que não seja o meu próprio deleite”, rebate Debussy à crítica de seu professor de harmonia, que lhe fazia advertência sobre os perigos do uso da liberdade imaginadora. Alguém por acaso guardou o nome do professor de harmonia de Claude Debussy? Sua música é de céu e de água, de perfumes e de cores e – estranhamente – vazia da presença humana. É ele um paisagista de olho poético, para quem o homem não passa de intruso no concerto universal. O que é que você faria se recebesse um cartão-postal de uma cidade qualquer da Espanha? Provavelmente nada; quando muito um formal agradecimento. Pois Debussy, que jamais viajou à Espanha, recebeu de Manuel de Falla, o estranhíssimo e genial compositor da Dança ritual do fogo, Debussy recebeu um cartão-postal colorido de cidadela solitária dos mouros de Granada. Ornado de relevos em cores e sombreado por grandes árvores, lá está o monumento de Alambra, em contraste com o caminho de luz, visto através da perspectiva de um arco da construção. Foi precisamente a intensidade dessas oposições de luz e de sombra que surpreendeu Debussy: traduziu essa surpresa pelo som plangente de uma guitarra que trama contrastes de extrema violência e de apaixonada doçura. Foi preciso passarem-se muitos anos para que outra voz, a de García Lorca, expressasse pela poesia o que Claude Debussy captara em La puerta del vino. Só Debussy também cansa. Numa espécie de prólogo de um tango revolucionário de Astor Piazzola, escuta-se grave queixa. Grave e antiga, posta no papel por um tal Lupércio Leonardo de Alquinzola, que viveu entre 1559 e 1613. Traduz com perfeição o que me deu para pensar na clara manhã de segunda-feira, tão diferente de plúmbeos domingos: “Porque este céu azul que todos vemos, nem é céu, nem é azul. Lástima grande que não seja verdade tanta beleza”.
.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Eis que reaparece inesperada, num papelório revisitado, a graciosa ilustração a bico de pena com que a artista Sumiko Arimori valorizou “De Cobra Norato a Macunaíma”, longo artigo que eu escrevi para o D. O. Leitura (publicação cultural da Imprensa Oficial do Estado) de 7 de dezembro de 1988. O artigo reproduz depoimento de áudio e vídeo que dei para a Casa de Mário de Andrade, em São Paulo, a pedido do escritor e euclidiano Paulo Dantas...
27/06/2009
|